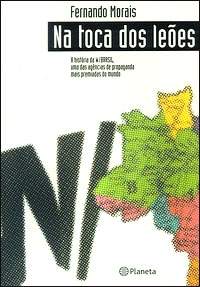Filmes de janeiro
Eis a lista dos filmes vistos em janeiro com os respectivos comentários.
ÁGUA NEGRA (DARK WATER) – EUA, 2005 ***1/2
De Walter Salles. Com Jennifer Connelly, John C. Reilly, Dougray Scott, Tim Roth e Pete Postlethwaite.
A estréia do brasileiro Walter Salles no mercado americano é um trabalho de intenções corretas, mas que falha na execução. O cineasta tem dificuldades ao tentar equilibrar a jornada pessoal de mãe e filha com a questão sobrenatural, fazendo de Água Negra um filme híbrido que demora a achar o tom. De qualquer forma, é uma abordagem diferenciada e inovadora para o gênero, trazendo, de quebra, mais uma grande atuação da linda Jennifer Connelly.
GOLPE BAIXO (THE LONGEST YARD) – EUA, 2005 ***
De Peter Segal. Com Adam Sandler, Chris Rock, Nelly e Burt Reynolds.
Comédia feita especialmente para o público americano (o futebol nosso é melhor que o deles), mas que consegue divertir durante as quase duas horas. Embora não traga nada de novo, as piadas funcionam, a história entretém e Adam Sandler mostra que pode funcionar quando contém seu histrionismo.
CORRA QUE A POLÍCIA VEM AÍ 2 E ½ (THE NAKED GUN 2 ½: THE SMELL OF FEAR) – EUA, 1991 *****
De David Zucker. Com Leslie Nielsen, Priscilla Presley, George Kennedy, O. J. Simpson e Robert Goulet.
A segunda parte da saga do tenente Frank Drebin é uma coletânea de piadas inspiradas e situações hilárias. A trama aqui é o que menos importa, já que o besteirol corre solto a cada segundo de produção. É simplesmente impossível não gargalhar com algumas das trapalhadas de Drebin.
E SE FOSSE VERDADE (JUST LIKE HEAVEN) – EUA, 2005 ***
De Mark Waters. Com Reese Whiterspoon, Mark Ruffalo e Donal Logue.
Comédia romântica que conta com uma boa química entre Ruffalo e Whiterspoon, segurando o interesse do filme até o final. Os personagens cativantes e algumas cenas engraçadas (como a do salvamento no restaurante) compensam a falta de ousadia do roteiro.
DE REPENTE É AMOR (A LOT LIKE LOVE) – EUA, 2005 ***
De Nigel Cole. Com Ashton Kutcher, Amanda Peet e Taryn Manning.
Ao contrário do filme acima, De Repente Amor é uma comédia romântica que pelo menos traz uma estrutura um pouco diferente do usual. No entanto, nem sempre convence, com algumas situações do roteiro parecendo forçadas demais e falhas na construção dos personagens. Kutcher e Peet funcionam bem juntos, o que garante o interesse até o final.
A SETE JOGOS DA GLÓRIA (SEVEN GAMES FROM GLORY) ***1/2
O filme oficial da Copa do Mundo de 2002 é uma decepção. Quem assiste quer apenas ver cenas dos jogos com algumas curiosidades de bastidores. Pena que o diretor prefere utilizar ângulos estranhos, nos quais é difícil acompanhar algumas das jogadas. Um erro crasso, que estraga um filme que não precisava de muito para agradar aos fãs.
O TEMPERO DA VIDA (POLITIKI KOUZINA) – Grécia/Turquia, 2003 ***
De Tassos Boulmetis. Com Georges Corraface, Ieroklis Michaelidis e Reinia Louizidou.
Filme simpático e bem realizado, mas que não oferece nada de especial para justificar a comoção que recebeu. A história é contada com sensibilidade e muita calma, dando tempo para o espectador criar ligação com os personagens. Em certos momentos, isso acontece, em outros a narrativa fica arrastada, prejudicando a fluidez da obra. Mas é um filme com mais méritos do que falhas e alguns ótimos momentos.
O OUTRO LADO DA RAIVA (THE UPSIDE OF ANGER) – EUA, 2005 ****1/2
De Mike Binder. Com Joan Allen, Kevin Costner, Erika Christensen, Keri Russell, Alicia Witt, Evan Rachel Wood e Mike Binder.
Joan Allen é o centro vital desta obra surpreendente, que consegue aliar um humor inteligente ao aspecto dramático da história. O diretor e roteirista Binder mostra segurança na sua função, arranco ótimas atuações do elenco, especialmente de Allen e de Costner, que cria um belíssimo personagem. O filme peca apenas pelo excesso de personagens, parecendo, às vezes, superficial ao tentar dar espaço a todos.
HORROR EM AMITYVILLE (THE AMITYVILLE HORROR) – EUA, 2005 **
De Andrew Douglas. Com Ryan Reynolds, Melissa George, Jesse James e Phillip Baker Hall.
Se esta é uma história real, não deixa de ser uma pena a abordagem do diretor Andrew Douglas. A trama que poderia ser um interessante suspense psicológico se perde em um filme com sustos baratos e um roteiro que não se preocupa com o desenvolvimento coerente dos personagens. O resultado é uma produção tecnicamente bem-acabada, com alguns raros momentos esparsos, mas fraca como um todo.
AMOR EM JOGO (FEVER PITCH) – EUA, 2005 **
De Peter e Bobby Farrelly. Com Jimmy Fallon, Drew Barrymore e Jack Kehler.
O filme mais comportado dos irmãos Farrelly é também seu pior. Sem a menor graça, esta comédia romântica ainda é prejudicada pela falta de química entre o irritante Fallon e a estranha Barrymore. Uma trama clichê dá o tom desta obra que em nada lembra os melhores trabalhos dos cineastas, nos politicamente incorretos Débi e Lóide e Quem Vai Ficar com Mary.
TUDO EM FAMÍLIA (THE FAMILY STONE) – EUA, 2005 **1/2
De Thomas Bezucha. Com Sarah Jessica Parker, Dermott Mulroney, Diane Keaton, Craig T. Nelson, Rachel McAdams, Luke Wilson e Claire Danes.
O elenco é o grande trunfo desta obra bastante irregular. Keaton e Nelson demonstram maturidade como os pais da família Stone, McAdams continua magnética e apaixonante, Parker constrói uma personagem interessante e Wilson quase rouba a cena como o irmão descolado. Pena que o roteiro abuse da boa vontade do espectador nas situações inverossímeis envolvendo os relacionamentos dos personagens.
AS LOUCURAS DE DICK E JANE (FUN WITH DICK AND JANE) – EUA, 2005 ***
De Dean Parisot. Com Jim Carrey, Téa Leoni, Alec Baldwin e Richard Jenkins.
Investindo constantemente no exagero e na sátira, o diretor Dean Parisot constrói uma comédia divertida e, por vezes, inteligente na crítica social. Jim Carrey, como sempre, mostra um timing cômico impecável, mas nem todas as piadas funcionam como planejado.
O SOLAR DE DRAGONWICK (DRAGONWICK) – EUA, 1946 ****
De Joseph L. Mankiewicz. Com Gene Tierney, Vincent Price, Walter Huston e Jessica Tandy.
A estréia de Mankiewicz no cinema já dava sinais do talento de um dos grandes cineastas daquela época. Com extrema segurança, o diretor constrói uma história que, pouco a pouco, vai envolvendo o espectador. Perde-se um pouco em subtramas desnecessárias, mas acerta em diversos pontos, especialmente no personagem de Vincent Price, delineado com muito mais cuidado do que se parece à primeira vista.
O SEGREDO DE VERA DRAKE (VERA DRAKE) – Inglaterra, 2004 ***1/2
De Mike Leigh. Com Imelda Staunton, Richard Graham, Eddie Marsan, Phillip Davis, Alex Kelly e Jim Broadbent.
O sempre interessante Mike Leigh constrói mais um filme que arrebata o espectador pela sua maturidade e realismo. Apesar da primeira hora exageradamente longa e dispersiva, o diretor acerta a mão na segunda metade da obra, aproveitando-se da visceral e arrebatadora interpretação de Imelda Staunton. O resultado é um filme do qual o espectador sai fatigado, emocionalmente exausto, mas nem por isso menos satisfeito.
A MARCHA DOS PINGÜINS (LA MARCHE DE L’EMPEREUR) – França, 2005 ****
De Luc Jacquet. Narrado por Charles Berling, Romane Bohringer e Jules Sitruk.
O documentário que conquistou fãs em todo o mundo é um trabalho bonito e educativo, ainda que às vezes arrastado. A história dos pingüins imperadores é, por si só, inspiradora e o diretor consegue captar imagens belíssimas, que parecem ter sido coreografadas com os animais. Além disso, a abordagem é inovadora (narração em primeira pessoa) e a trilha sonora belíssima.
O FANTASMA DA ÓPERA (THE PHANTOM OF THE OPERA) – EUA, 2004 ****
De Joel Schumacher. Com Emmy Rossum, Gerard Butler, Patrick Wilson, Miranda Richardson e Minnie Driver.
Espetáculo visual e sonoro comandado com segurança por Joel Schumacher, O Fantasma da Ópera é a versão para os cinemas do sucesso dos palcos americanos. Ainda que falte uma direção mais empolgante nos números musicais e que os atores jamais passem do correto, a história é bem contada, aproveitando-se das ótimas canções e das cuidadosas direção de arte e fotografia para satisfazer os sentidos do espectador.
UMA CANÇÃO DE AMOR PARA BOBBY LONG (A LOVE SONG FOR BOBBY LONG) – EUA, 2004 ****
De Shainee Gabel. Com John Travolta, Scarlett Johansson, Gabriel Macht e Deborah Kara Unger.
Uma Canção de Amor para Bobby Long é uma bela surpresa. Pouco visto, o filme conta de maneira simples e eficiente o relacionamento entre três pessoas após a morte de uma conhecida em comum. Com belíssimas atuações do trio principal e uma eficiente construção dos personagens, a obra é uma pequena pérola a ser garimpada, prejudicada apenas pela previsibilidade da trama principal. Merece uma chance.
POR QUEM OS SINOS DOBRAM (FOR WHOM THE BELL TOLLS) – EUA, 1943 **
De Sam Wood. Com Gary Cooper, Ingrid Bergman, Akim Tamiroff e Katina Paxinou.
Apesar do status de clássico, essa adaptação da obra de Ernest Hemingway é incrivelmente tediosa. A história jamais prende a atenção, sendo diluída por enervantes e desnecessárias duas horas e meia. Cooper exibe seu inexpressivo rosto e Bergman faz o possível, mas está longe dos seus melhores momentos. Sobram alguns diálogos interessantes e nada mais.